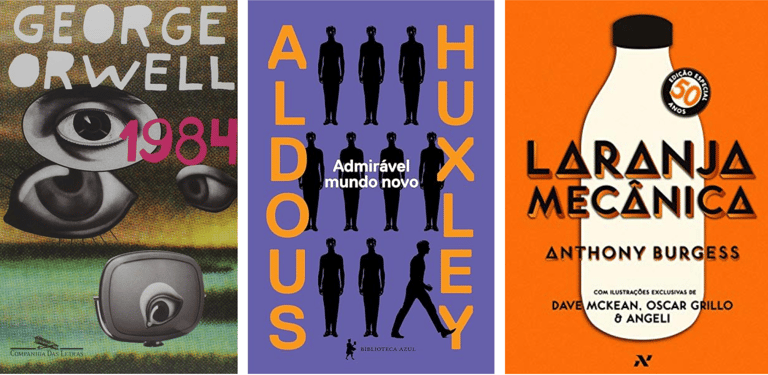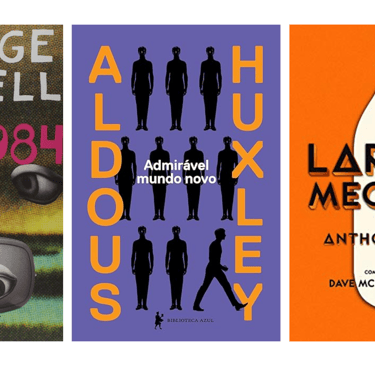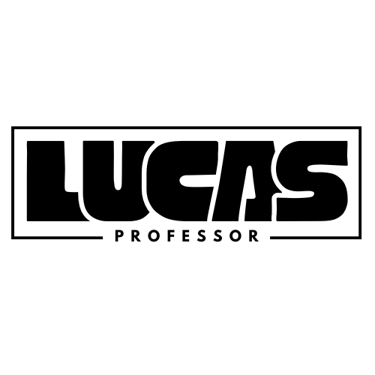Ruptura: uma distopia para "chamar de nossa"
"Ruptura não apenas atualiza os códigos clássicos da distopia, ela se impõe como um corrosivo retrato da alienação corporativa moderna, onde produtividade, falsidade e hipocrisia se escondem atrás de frases motivacionais vazias."
ARTIGOS
George Lucas Casagrande
“Os distópicos não olham para o futuro com o otimismo daqueles que acreditam que a crescente maestria humana sobre a natureza trará maiores doses de felicidade. Pelo contrário, olham com o pessimismo daqueles que acreditam que quanto mais o homem controla a natureza, menos ele controla a si mesmo. Os beneficios do avanço tecnológico de nada valerão, dizem, em comparação aos fins malignos aos quais serão submetidos.”
Theodore Dalrymple
Entre as coisas criativas e maravilhosas que a mente humana é capaz de criar, há um gênero que se destaca pela sua capacidade de prever e, ao mesmo tempo, criticar apontar para um futuro não ideal: a distopia. Este gênero literário altamente inventivo, que é um desdobramento da ficção científica, difere da fantasia pura e simples por seu foco em cenários e mundos possíveis, porém perturbadores, ao contrário de uma utopia que refletem, de maneira crítica, os caminhos que a humanidade poderia seguir caso optasse por certas escolhas. Para investigar as origens desse gênero, podemos voltar até a Idade Média, surpreendentemente: já entre os séculos XV e XVI, Hieronymus Bosch mostrava à humanidade, por meio de suas pinturas alucinadas, mundos marcados pela degradação moral, pela perdição espiritual e pela violência caótica, elementos que, à sua maneira pictórica, antecipavam as distopias modernas. Esses temas grotescos e simbólicos, que retratavam sociedades mergulhadas no pecado, delírio e punição, encontram ecos posteriores na literatura, especialmente a partir de obras como A Jornada ao Centro da Terra, de Jules Verne, o pai da ficção científica, cuja imaginação, embora mais voltada ao maravilhamento científico, por vezes tangenciava cenários opressivos, governados por forças incontroláveis da natureza ou da própria ciência humana.
Contudo, foi o século XX que nos brindou com os maiores clássicos desse gênero. Elementos como o controle absoluto, a opressão estatal e a alienação do indivíduo iam aparecer em obras mais sofisticadas, como 1984, de George Orwell, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. A distopia não só consolidou seu espaço na literatura como também conquistou e ainda conquista leitores de diversos perfis: desde jovens entusiasmados com os dilemas do mundo até adultos com pouca familiaridade literária. Ou seja, essas obras influenciam a cultura de massa de uma forma curiosa e transformadora.
Dessas três obras, cada uma guarda uma peculiaridade: 1984, por exemplo, com sua representação de uma sociedade totalitária onde tudo é vigiado e controlado, denuncia o totalitarismo em seu auge, algo que caiu como uma luva para o público soviético, que lia o livro clandestinamente em cópias escondidas e sob risco constante do estado policialesco. Já Admirável Mundo Novo apresenta um universo onde o controle não se dá pela repressão direta, mas pela manipulação do prazer e da anestesia emocional, uma forma sofisticada de dominação que nos remete imediatamente ao consumismo e ao hedonismo que já floresciam na sociedade americana do entreguerras. E Laranja Mecânica, um caso curioso em que o filme acabou suplantando o livro em alcance popular, lança luz sobre os mecanismos de controle psicológico e as tensões profundas entre liberdade individual e conformidade social, no cinema, é ainda primor técnico de montagem e direção. Essas obras, muito mais do que simples narrativas distantes, são poderosas alegorias de sistemas opressivos que, muitas vezes, se disfarçam sob o véu da eficiência, da paz ou mesmo da democracia.
Portanto, entre as tantas distopias do século XX, poucas são tão emblemáticas quanto essas três. Em comum, todas elas consolidaram uma iconografia marcante, que se tornou uma tradição do gênero: arquiteturas espaçadas e monumentais, feitas para amedrontar, dominar o olhar e silenciar o indivíduo; distorções de linguagem que desconstroem a lógica e a identidade; uma atmosfera impregnada de medo e estranhamento. As personagens, caricatas em sua rigidez ou alienação, parecem sombras disformes de um mundo em que o sujeito foi reduzido a uma engrenagem obediente. Os ambientes são frios, cinzentos, desabitados, desertos emocionais que traduzem a opressão tanto interna quanto externa. Um universo grotesco e plastificado, onde o avanço tecnológico anda de mãos dadas com a banalização do humano e com a tirania disfarçada de bem-estar. Em suma, nas distopias não há para onde fugir: seja pelo Estado, pelas corporações ou por instituições difusas, sempre há uma força que deseja controlar corpos e mentes. Algo distante da nossa realidade? Esse debate pode render ricas discussões.
Embora essas obras não tenham perdido sua essência atemporal, o mundo soviético parece ter sido deixado para trás, o consumismo foi plenamente assimilado pela cultura contemporânea e as estratégias de manipulação psicológica tornaram-se ainda mais sutis e eficazes. Ainda assim, a literatura distópica continua ganhando fôlego: criada por Dan Erickson e dirigida por Ben Stiller e Aoife McArdle, a série Ruptura desenha um universo no qual os trabalhadores da empresa Lumon passam por um procedimento um tanto quanto bizarro e angustiante: se submetem a um processo que separa completamente suas memórias pessoais das profissionais, criando duas versões de si mesmos, uma que só existe no trabalho, e outra que existe apenas no ambito pessoal e familiar. Os personagens sabem que detém apenas uma vida e duas realidades, mas não fazem ideia do que passa em ambas.
A arquitetura da Lumon, brutalista e labiríntica, com corredores infinitos e salas impessoais, remete diretamente ao sufocamento espacial de 1984 e ao método higienista da clínica de Admirável Mundo Novo. Os personagens, em sua artificialidade comportamental, ecoam as figuras caricatas de outras distopias, simbolizando a perda da identidade em um sistema que anula o individuo. Assim como nas obras do século XX, Ruptura denuncia um controle que não se impõe pela violência explícita, mas pela docilidade institucionalizada. O que significa ser livre, quando metade de sua existência está presa ao desconhecido? Em artigo recente da Folha de S.Paulo, a arquiteta Mariana Simas destaca como o design e a arquitetura da Lumon aparecem como peças-chave na construção da atmosfera opressiva da série:
“Arte, fotografia, literatura e até mesmo uma disciplina tão árida quanto o urbanismo contribuem para a coerência de um roteiro que trata, no fim das contas, de controle, isolamento e dissociação. De alguma forma, no entanto, nenhuma dessas áreas sobressai nas análises a respeito das metáforas que nos bombardeiam ao longo dos episódios. Quem conseguiu esse feito foi, em primeiro lugar, o design. Depois, a arquitetura. Dois campos que se entrelaçam, e por isso caminham juntos na constituição da marcante ambiência dos mundos abordados na história: o do trabalho e o da vida pessoal. Na esfera corporativa, a locação que representa o exterior da sede da Lumon é um antigo edifício da AT&T, construído entre 1959 e 1962 para abrigar seu centro de pesquisas. Um dos últimos projetos do arquiteto e designer de origem finlandesa Eero Saarinen, a caixa envidraçada em Nova Jersey contém um generoso átrio cheio de luz natural, pensado para estimular a convivência.”
Ruptura não apenas atualiza os códigos clássicos da distopia, ela se impõe como um corrosivo retrato da alienação corporativa moderna, onde produtividade, falsidade e hipocrisia se escondem atrás de frases motivacionais vazias. A série escancara a crítica ao mundo dos coaches e da autoajuda empresarial, figuras que veem o ser humano como mera engrenagem em um culto insano à produtividade, em que o esgotamento e a desumanização são travestidos de realização pessoal. Tudo na Lumon é banal e patético: os rituais de celebração, os prêmios infantis, os líderes paternalistas, como se a motivação fosse uma moeda capaz de comprar obediência. Ao escancarar esse teatro de máscaras, Ruptura aponta para um mal-estar presente da vida moderna: a separação entre o que somos e o que fingimos ser. Com duas temporadas já aclamadas, a série carrega o potencial de se tornar um marco definitivo da ficção distópica, resta saber se o desfecho, aguardado com ansiedade pelo público, estará à altura de foi até aqui.
Cada uma à sua maneira, o que mais assusta nas distopias não é apenas o futuro que projetam, mas o presente que descrevem e criticam. Familiar, Ruptura se encaixa perfeitamente nessa tradição: é uma distopia moldada para o nosso tempo. E, diante dela, podemos refletir, caro leitor: será que um dia aceitaremos procedimentos semelhantes? Ruptura é a distopia da nossa geração, uma distopia para chamar de nossa.